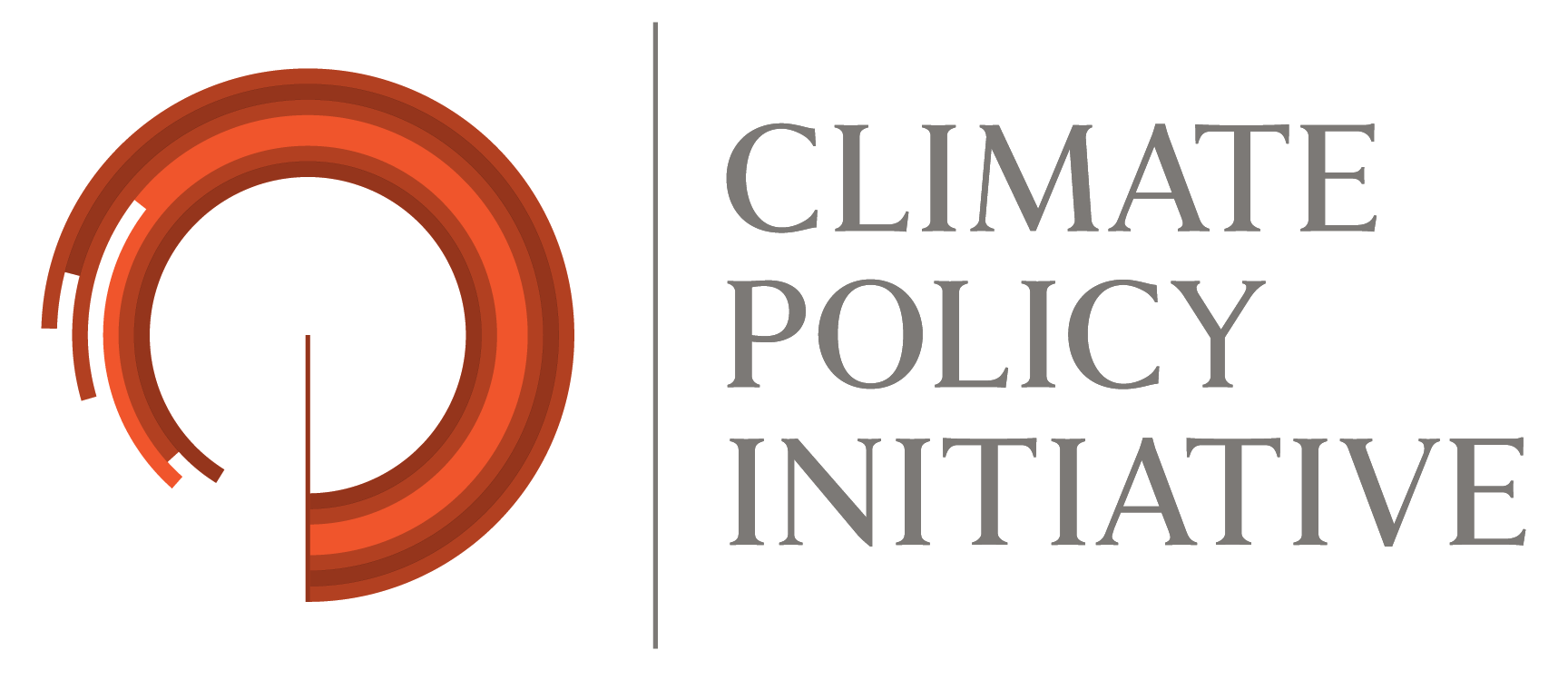Diante da diversidade de contextos florestais e da necessidade de adoção de abordagens específicas, este capítulo analisa como diferentes instrumentos de política pública podem apoiar uma agenda florestal e climática diferenciada, capaz de gerar resultados concretos de conservação e restauração.
Em diferentes regiões tropicais, os governos vêm adotando, com graus variados de sucesso, iniciativas para reduzir o desmatamento, proteger as florestas remanescentes e promover a restauração em larga escala. Ao longo do tempo, consolidou-se um conjunto robusto de instrumentos — que combinam medidas regulatórias, incentivos econômicos e subsídios direcionados — adaptados aos desafios e oportunidades locais.
Este capítulo apresenta uma visão geral de instrumentos de política pública com impacto florestal, com foco naqueles que têm demonstrado eficácia em contextos tropicais. São destacados mecanismos de comando e controle, como o estabelecimento e gestão de áreas protegidas, a proteção de espécies ameaçadas e de seus habitats, além de políticas florestais e de uso da terra, incluindo regras de zoneamento e exigências legais de conservação em propriedades privadas. O capítulo também aborda incentivos econômicos e subsídios, como programas de pagamento por serviços ambientais (PSA), subsídios para aumentar a produtividade agrícola, crédito rural subsidiado e incentivos comerciais e de mercado.
As políticas apresentadas neste capítulo não constituem um catálogo exaustivo de intervenções possíveis, mas uma síntese dos principais mecanismos que já demonstraram impacto e oferecem lições para uma aplicação mais ampla. O objetivo é conectar o potencial do nexo floresta-clima a caminhos concretos de política pública, destacando os instrumentos disponíveis e as escolhas estratégicas necessárias. Em conjunto, essas políticas evidenciam que o manejo florestal eficaz é viável e alcançável.
No entanto, a eficácia das políticas públicas com impacto em floresta depende não apenas de seu desenho, mas também de um ambiente que favoreça sua implementação. Isso envolve fatores como clareza e segurança nos direitos de propriedade e posse da terra, articulação entre políticas de diferentes setores, arranjos institucionais coordenados, processos decisórios responsáveis e implementação consistente. Esses elementos determinam se os instrumentos regulatórios e os incentivos econômicos podem de fato gerar resultados concretos. Nesse contexto, o capítulo também analisa as condições favoráveis, como direitos sobre a terra bem definidos, para que as políticas tenham impacto positivo nas florestas.
Uma dimensão crítica dessa discussão é o reconhecimento de que as políticas públicas relacionadas às florestas estão profundamente interligadas aos ciclos políticos. As taxas de desmatamento costumam subir ou cair conforme mudam as prioridades políticas e as motivações eleitorais. Portanto, embora os instrumentos de política analisados neste capítulo tenham um potencial significativo, seu sucesso a longo prazo depende de estarem integrados a estruturas de governança estáveis e resilientes, capazes de resistir às flutuações políticas.
Panorama dos Instrumentos de Políticas Públicas e Evidências de Efetividade
Um conjunto diversificado e complementar de instrumentos de política pública foi desenvolvido em diferentes regiões para enfrentar o desmatamento e a degradação florestal, refletindo a complexidade da governança florestal e a variedade de fatores econômicos, legais e institucionais envolvidos. Esses instrumentos costumam ser enquadrados em duas grandes categorias: (i) instrumentos regulatórios e (ii) incentivos econômicos e subsídios (Figura 9).
Figura 9. Conjunto de Instrumentos com Impacto em Floresta
INSTRUMENTOS REGULATÓRIOS
• Estabelecimento e Gestão de Áreas Protegidas
• Proteção de Espécies Ameaçadas ou em Risco
• Uso da Terra e Proteção da Vegetação Nativa
• Monitoramento, Fiscalização e Sanção
INCENTIVOS ECONÔMICOS E SUBSÍDIOS
• Pagamento por Serviços Ambientais
• Subsídios à Produtividade Agrícola
• Crédito Rural Subsidiado
• Incentivos Comerciais e de Mercado
Fonte: CPI/PUC-Rio, 2025
Instrumentos Regulatórios
No contexto das florestas, os mecanismos de comando e controle referem-se a leis, regulamentos e demais normas vinculantes estabelecidas pelos governos para disciplinar o uso da terra, o manejo e a conservação florestal. Esses instrumentos definem o que é permitido, restrito ou proibido e seu descumprimento gera sanções, como multas, embargos ou perda de direitos. Em geral, contam com sistemas de monitoramento que permitem detectar violações e orientar as ações de fiscalização.
A abordagem de comando e controle pode assumir diferentes formas, dependendo do contexto jurídico e institucional. Entre elas estão o estabelecimento e gestão de áreas protegidas, a proteção de espécies ameaçadas e de seus habitats, políticas florestais e de uso da terra — que estabelecem tanto as condições para a supressão da vegetação quanto as obrigações de conservação e restauração em terras públicas e privadas —, além de instrumentos voltados ao cumprimento da lei, que se baseiam em monitoramento, fiscalização e aplicação de sanções para assegurar sua efetividade.
Estabelecimento e Gestão de Áreas Protegidass
O estabelecimento e a gestão de áreas protegidas é um dos instrumentos de política pública mais utilizados para reduzir o desmatamento. As áreas protegidas consistem em zonas geograficamente delimitadas, estabelecidas por instrumentos legais ou outros mecanismos eficazes, destinadas à conservação da biodiversidade e à manutenção de serviços ecossistêmicos, resguardando atributos naturais de valor ecológico, biológico ou cultural. Sua eficácia geralmente decorre da combinação entre maior monitoramento e a força dissuasória de regras mais restritivas de proteção e punição.
Na Amazônia brasileira, a proteção florestal se dá pelo aumento do monitoramento, que eleva a probabilidade de detecção de infrações ambientais, associado a um arcabouço legal que prevê sanções mais severas para crimes cometidos em áreas protegidas. Isso aumenta o custo do desmatamento ilegal em relação a outras áreas, desestimulando os infratores a atuarem nas áreas protegidas. Embora essa estratégia reduza significativamente as taxas de desmatamento em regiões de alta pressão, ela pode acabar deslocando a supressão de vegetação para as áreas não protegidas, em vez de eliminá-la totalmente (Gandour 2018).
Evidências de outros países reforçam o efeito protetivo das áreas protegidas. Na Costa Rica, a rede nacional de áreas protegidas reduziu o desmatamento em cerca de 10% (Andam et al. 2008). Joppa e Pfaff (2010), analisando 147 países, verificaram que, em 75% dos casos, a proteção reduziu a conversão de florestas em outros usos da terra. Na Amazônia peruana, Miranda et al. (2016) mostram que restrições ao uso da terra dentro das zonas protegidas contribuíram para reduzir o desmatamento. A eficácia varia conforme o regime de proteção: Nelson e Chomitz (2011) identificaram que, na América Latina e no Caribe, as áreas estritamente protegidas reduziram a incidência de incêndios — um indicador de desmatamento — em 3% a 4%, enquanto as áreas de uso múltiplo reduziram em 5% a 6%, e os territórios indígenas, em 16% a 17%.
As terras indígenas se destacam como altamente eficazes na proteção florestal, mesmo em contextos de forte pressão de desmatamento. Nolte et al. (2013) evidenciam seu forte efeito dissuasório na Amazônia brasileira, enquanto Baragwanath, Bayi e Shinde (2023) mostram que esses territórios não apenas reduzem o desmatamento, mas também favorecem a regeneração de florestas secundárias em terras previamente desmatadas. Sze et al. (2022) ampliam essa evidência para toda a região tropical, constatando que as terras indígenas evitam o desmatamento em taxas comparáveis às de outras áreas protegidas, com eficácia ainda maior na África.
O contraste com as terras públicas não designadas, isto é, sem destinação específica, é marcante. No Brasil, essas áreas são particularmente vulneráveis ao desmatamento ilegal e à grilagem de terras, conforme demonstrado por Azevedo-Ramos e Moutinho (2018) e por Azevedo-Ramos et al. (2020). Essas evidências ressaltam o papel fundamental da proteção legal e de direitos de uso e propriedade bem definidos na prevenção da perda florestal, bem como a importância das áreas protegidas como componente essencial de uma governança florestal eficaz.
Proteção de Espécies Ameaçadas ou em Risco
As regulamentações de proteção de espécies ameaçadas ou em risco proíbem a caça e protegem de seus habitats — medidas que, por consequência, também contribuem para a conservação das florestas.
Instrumentos regulatórios também são usados para proteger a biodiversidade, de forma ampla, e a fauna silvestre, em particular. Na Tailândia, os santuários de vida silvestre — áreas protegidas criadas especificamente para conservar espécies ameaçadas ou em risco e seus habitats — e os parques nacionais aumentam significativamente a cobertura florestal, além do tamanho e a conectividade das áreas de floresta (Sims 2014). Essas áreas apresentaram crescimento tanto no tamanho médio das manchas florestais quanto na extensão das maiores áreas contínuas de floresta remanescente. Comparações entre os dois tipos de áreas protegidas mostram que os santuários de vida silvestre são mais eficazes do que os parques nacionais para proteger as florestas em áreas centrais (em oposição às bordas) e para evitar a fragmentação, que ocorre quando as florestas são subdivididas em áreas menores e isoladas.
Uso da Terra e Proteção da Vegetação Nativa
As políticas florestais e de uso da terra impõem limitações que vão desde a proteção integral das florestas até a autorização para convertê-las em outros usos do solo. Assim, definem onde e como as atividades econômicas podem ocorrer — especialmente a agropecuária. Bruggeman, Meyfroidt e Lambin (2015) analisam uma lei de zoneamento em Camarões que dividiu as áreas de floresta em zonas florestais permanentes (Permanent Forest Estate – PFE) e não permanentes (Non-permanent Forest Estate – NPFE). A PFE inclui tanto florestas destinadas à proteção quanto à produção, enquanto a NPFE abrange áreas que podem ser desmatadas ou manejadas pelas populações locais por meio de florestas comunitárias. Os resultados mostram que o zoneamento do uso da terra reduziu de forma significativa o desmatamento na PFE, indicando que as unidades de produção florestal podem ser um instrumento eficaz de controle do desmatamento.
No Brasil, o Código Florestal é o principal marco legal que regula o uso da terra em propriedades rurais privadas. Ele estabelece obrigações de conservação da vegetação nativa por meio de dois instrumentos: a Reserva Legal (RL), que exige a manutenção de uma porcentagem mínima de cobertura florestal no imóvel rural — 80% na Amazônia e 20% nos demais biomas —, e Áreas de Preservação Permanente (APPs), destinadas à proteção dos recursos hídricos, à prevenção da erosão do solo e à conservação de outras áreas ambientalmente sensíveis. Soares-Filho et al. (2014) estimam que esses dois instrumentos protegem 193 ± 5 Mha de vegetação nativa, contendo 87 ± 17 GtCO2. Os autores destacam que, embora o Código Florestal tenha imposto restrições severas ao desmatamento em propriedades privadas, sua aplicação tem se mostrado desafiadora, especialmente na Amazônia. O descumprimento da lei resultou em passivos ambientais tanto em APPs quanto em Reserva Legais, cuja recomposição é de responsabilidade do proprietário. Os autores estimam que o passivo vegetação nessas áreas seja cerca de 21 ± 1 Mha e que a sua regularização por meio da restauração florestal poderia sequestrar até 9 ± 2 GtCO2. Nesse contexto, o Código Florestal exemplifica tanto o potencial transformador quanto os desafios de implementação de instrumentos regulatórios voltados para a conservação florestal e ao uso sustentável da terra em larga escala.
Monitoramento, Fiscalização e Sanção
Um subconjunto de instrumentos de comando e controle são usados para assegurar o cumprimento das leis e regulamentos ambientais. Isso inclui sistemas de monitoramento — muitas vezes baseados em tecnologias avançadas, como satélites — e ações de fiscalização e punição, como imposição de multas e outras sanções por desmatamento ilegal. Essas abordagens são especialmente relevantes em contextos de capacidade institucional reduzida, nos quais o efeito dissuasório é decisivo para influenciar as decisões de uso da terra.
Os avanços tecnológicos aumentaram a eficácia das ações de fiscalização. O Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real (Deter), que processa imagens de satélite e emite alertas de desmatamento quase em tempo real, tem desempenhado um papel fundamental no direcionamento da fiscalização ambiental no Brasil. Ao permitir que as autoridades concentrem esforços nas áreas indicadas pelos alertas na Amazônia, o DETER ajudou a superar deficiências na aplicação da lei. Assunção, Gandour e Rocha (2023) mostram que, entre 2006 e 2016, o uso do sistema reduziu o desmatamento em nível municipal em 25%. Evidências complementares de Assunção et al. (2023) indicam que a criação de uma “lista de municípios prioritários” para monitoramento e fiscalização ambiental reduziu o desmatamento em 43%, com efeitos positivos que se estenderam a áreas vizinhas. Esses resultados ilustram como a fiscalização direcionada — especialmente quando combinada com uma dissuasão efetiva — pode alcançar reduções substanciais no desmatamento.
De fato, sistemas de monitoramento e alerta florestal quase em tempo real, baseados em imagens de satélite, têm contribuído para rastrear o desmatamento em escala global. Um exemplo é o Global Forest Watch (GFW), plataforma que disponibiliza dados abertos sobre desmatamento e cobertura florestal em todo o mundo. Em entrevistas realizadas em Madagascar, Indonésia, Bolívia e Peru, Musinsky et al. (2018) constataram que o uso dessas ferramentas contribuiu significativamente para melhorar a capacidade de organizações de conservação e gestão florestal de responder a incêndios, desmatamento e outras atividades ilegais ou indesejáveis, bem como reduzir seus impactos.
No Brasil, o MapBiomas Alerta, sistema que valida e refina alertas de desmatamento da vegetação nativa em todos os biomas, a partir de imagens de alta resolução, também contribui para esses esforços. Desde 2020, o governo de Goiás adotou essa ferramenta no combate ao desmatamento ilegal. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad/GO), os alertas têm possibilitado um monitoramento mais eficaz (Cardoso et al. 2024).
Incentivos Econômicos e Subsídios
Ao contrário das abordagens de comando e controle, que se baseiam em obrigações legais e sanções, os incentivos econômicos e subsídios são concebidos para estimular a conservação florestal, ao alterar as condições econômicas sob as quais as decisões de uso da terra são tomadas. Eles buscam mudar o cálculo de custo-benefício dos usuários da terra, oferecendo incentivos positivos para conservar as florestas em vez de convertê-las para outros usos. Exemplos incluem programas de PSA, subsídios que promovem a intensificação agrícola, crédito rural subsidiado e incentivos comerciais e de mercado.
Pagamentos por Serviços Ambientais
Os programas de PSA oferecem incentivos financeiros para que os proprietários de florestas mantenham suas florestas em pé. Os pagamentos são condicionados a comportamentos voluntários pró-meio ambiente, como conservar a biodiversidade, sequestrar carbono e manter a qualidade da água. Um aspecto essencial nesse contexto é o monitoramento e a fiscalização contínuos das condições para a transferências dos recursos. Muitos casos demonstraram o forte potencial desses programas para reduzir o desmatamento.
Por exemplo, Jayachandran et al. (2017) mostram que os contratos PSA em Uganda, que ofereciam pagamentos anuais por hectare conservado a famílias proprietárias de florestas, reduziram significativamente o desmatamento sem deslocá-lo para áreas vizinhas. Da mesma forma, Arriagada et al. (2012) documentam que o programa PSA da Costa Rica aumentou a cobertura florestal em imóveis rurais entre 11% e 17%.
Outros estudos ressaltam a importância do contexto local: Alix-Garcia et al. (2015) observaram que um programa de PSA no México, que remunerava proprietários pela proteção da floresta, reduziu a perda esperada de cobertura vegetal em 40% a 51%, sendo mais eficaz em áreas com menores índices de pobreza. Wong et al. (2023) mostram que um programa de PSA no Brasil conseguiu manter a cobertura florestal em comunidades rurais acima de 80%, e que o mecanismo subjacente para a redução do desmatamento foi o aumento das denúncias de desmatamento ilegal. Por fim, Moros et al. (2023) constatam que os ganhos de conservação na Colômbia persistiram mesmo após o término dos pagamentos, sugerindo que, quando bem estruturados, os programas de PSA podem ter impactos duradouros.
Subsídios à Produtividade Agrícola
Subsídios destinados a aumentar a produtividade agrícola — por exemplo, o fornecimento de fertilizantes, sementes de alto rendimento ou capacitação — também têm se mostrado promissores na redução do desmatamento. O mecanismo subjacente é que o aumento da produtividade pode reduzir a necessidade de expansão da fronteira agrícola, especialmente em áreas de pequena escala, diminuindo assim a pressão sobre a floresta.
Um programa de subsídio a fertilizantes e sementes no Malaui reduziu a pressão pela expansão agrícola, ao melhorar a produtividade das terras já cultivadas (Abman e Carney 2020). Essa política, voltada ao aumento da produtividade em imóveis rurais pequenos, gerou efeitos ambientais positivos. Evidências semelhantes foram observadas em Uganda (Abman et al. 2023) e na Zâmbia (Pelletier et al. 2020), onde os esforços de intensificação agrícola — por meio de capacitação e subsídios a sementes e fertilizantes de melhor qualidade, respectivamente — foram associados a menores taxas de desmatamento. Esses casos destacam a importância de integrar metas de conservação às políticas de desenvolvimento agrícola.
Crédito Rural Subsidiado
O crédito rural é um dos principais instrumentos usados por governos de países em desenvolvimento para apoiar a agropecuária. Como a expansão agrícola é um dos principais vetores do desmatamento, vincular o crédito rural subsidiado a requisitos ambientais rigorosos é uma estratégia eficaz para contê-lo.
Assunção et al. (2020) mostram que a vinculação do crédito rural subsidiado na Amazônia brasileira a requisitos ambientais mais restritivos foi eficaz na redução do desmatamento. Os autores avaliam o impacto de uma política de crédito estabelecida pelo Banco Central do Brasil, que condicionou a concessão de crédito rural subsidiado na Amazônia à comprovação do cumprimento de cadastramento do imóvel rural no órgão fundiário competente e das regulamentações ambientais. As estimativas indicam que a área total desmatada durante o período do estudo foi cerca de 60% menor do que teria sido na ausência da política.
Incentivos Comerciais e de Mercado
Instrumentos comerciais e de mercado utilizam a força dos mercados para promover conservação. Exemplos incluem políticas de cadeias produtivas de desmatamento zero, voluntárias ou obrigatórias; esquemas de certificação; e políticas comerciais que condicionam o acesso ao mercado ao cumprimento de padrões ambientais. Essas medidas podem ampliar os esforços de conservação conduzidos pelo Estado, ao alinhar os interesses econômicos com objetivos de sustentabilidade.
Nesse contexto, Heilmayr et al. (2020) avaliam a Moratória da Soja na Amazônia brasileira — um acordo entre comerciantes de grãos para não comprar soja cultivada em áreas desmatadas após 2008. Os autores identificam reduções significativas no desmatamento associadas à política, especialmente nos casos em que sua aplicação foi reforçada pelo registro das propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e por sistemas de monitoramento.
Esquemas de certificação também contribuem para a conservação florestal e a redução do desmatamento. O Conselho de Manejo Florestal (Forest Stewardship Council – FSC) é um sistema voluntário de certificação que promove o manejo sustentável das florestas por meio de práticas como corte seletivo e melhoria do manejo do fogo. Essas certificações podem gerar um prêmio de preço ou benefícios reputacionais para os produtores de madeira. Miteva, Loucks e Pattanayak (2015) mostram que as concessões florestais certificadas pelo FSC na Indonésia reduziram o desmatamento em 5% em comparação com as concessões não certificadas, ressaltando como mecanismos de mercado podem alinhar interesses comerciais com conservação florestal.
Condições Favoráveis: Direitos sobre a Terra Bem Definidos e Seguros
Como mostrado anteriormente, instrumentos regulatórios, incentivos econômicos e subsídios podem gerar resultados efetivos na redução do desmatamento. No entanto, esforços adicionais são necessários para criar condições favoráveis à implementação e efetividade desses mecanismos. Em particular, reformas estruturais na governança fundiária, como políticas que definam e assegurem direitos sobre a terra, têm papel crucial para remover barreiras persistentes que comprometem os resultados de conservação e restauração.
Quando os direitos sobre a terra são claros e seguros, os usuários têm mais confiança e incentivos para investir em práticas de manejo sustentável da terra. Sem essa garantia, há risco de exploração excessiva dos recursos, diante da frágil responsabilização. Medidas como demarcação, registro e certificação fortalecem a segurança fundiária, favorecendo a intensificação do uso da terra e reduzindo a pressão para desmatar novas áreas. Além disso, a resolução de conflitos, a delimitação das fronteiras e a formalização de direitos de uso reduzem os custos de transação e estimulam a cooperação, tornando mais efetiva a gestão compartilhada de recursos comuns, como as florestas.
Experiências internacionais reforçam essa importância. Um programa de cadastro fundiário no Benin, que formalizou os direitos consuetudinários à terra para aumentar a produtividade agropecuária e apoiar o manejo florestal comunitário, reduziu o desmatamento em cerca de 20% ao ampliar a segurança da posse (Wren-Lewis et al. 2020). A titulação de territórios indígenas na Amazônia peruana reduziu significativamente tanto o desmatamento quanto a degradação florestal (Blackman et al. 2017). De modo semelhante, a demarcação plena de territórios indígenas na Amazônia brasileira também levou à queda expressiva do desmatamento (Baragwanath e Bayi 2020). Esses resultados mostram que direitos sobre a terra — formais e coletivos — podem ser instrumentos eficazes para conter o desmatamento.
Uma meta-análise de mais de 30 estudos sobre a relação entre direitos fundiários e desmatamento em florestas tropicais concluiu que a segurança da posse está associada à redução do desmatamento, independentemente da forma de acesso à terra (Robinson et al. 2014). Na Indonésia, o status legal da terra influencia diretamente as práticas de uso do solo: em áreas com direitos frágeis, a probabilidade de desmatamento por fogo é maior, evidenciando a importância de direitos claros e seguros em escala de paisagem (Balboni et al. 2024).
Riscos Políticos
O desmatamento está profundamente entrelaçado com ciclos políticos e incentivos, que podem tanto mitigar quanto agravar a perda florestal, dependendo do contexto. Diversos estudos ilustram como dinâmicas eleitorais e instabilidade política moldam as decisões de uso da terra, muitas vezes comprometendo os ganhos de conservação.
Na Indonésia, por exemplo, os incêndios florestais diminuem em anos eleitorais, pois podem prejudicar as chances de reeleição (Balboni et al. 2021). No entanto, as taxas de desmatamento aumentam no ano que antecede as eleições para chefe distrital (Cisneros, Kis-Katos e Nuryartono 2021). Há evidências semelhantes no Brasil, onde o desmatamento em anos eleitorais foi maior em municípios cujos prefeitos concorreram à reeleição, em comparação aos municípios onde o prefeito não buscava novo mandato, refletindo o uso político dos recursos florestais para fins eleitorais (Pailler 2018).
Para além dos ciclos eleitorais, os riscos políticos também decorrem de mudanças nas estruturas de governança e de comportamentos voltados à promoção de benefícios, quando agentes públicos manipulam sistemas econômicos ou políticos para obter vantagens pessoais sem gerar riqueza para a sociedade. Burgess et al. (2012) mostram que, na Indonésia, quando políticos perdem poder em decorrência da divisão de distritos, as taxas de desmatamento ilegal aumentam — e apontam a possibilidade de que tais atividades sejam facilitadas por essas próprias autoridades. Por outro lado, quando eles têm acesso a fontes alternativas de renda, como a exploração de petróleo e gás, os custos políticos de serem flagrados em atividades ilegais no setor florestal tornam-se mais altos, o que contribui para reduzir o desmatamento.
Outro exemplo da conexão entre política e desmatamento é o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), criado em 2004 pelo governo brasileiro para coordenar ações de monitoramento, fiscalização e ordenamento territorial na região. Bragança e Dahis (2022) analisam como o plano afetou as dinâmicas de poder local e mostram que seus efeitos foram maiores em municípios governados por políticos que também eram produtores rurais, evidenciando como políticas ambientais podem alterar os incentivos políticos em nível local, e, assim, ampliar seus impactos socioambientais.
Em conjunto, essa literatura evidencia que o desmatamento é altamente suscetível a ciclos políticos, à instabilidade institucional e aos incentivos das elites locais. Disso decorre uma necessidade crítica: as políticas públicas não devem ser desenhadas apenas para a eficácia técnica, mas também para a resiliência política. Proteger os esforços de conservação das pressões políticas de curto prazo — seja por meio do controle e fiscalização por instituições independentes, do fortalecimento dos marcos legais ou do alinhamento de incentivos econômicos à gestão florestal de longo prazo — é essencial para garantir resultados duradouros.