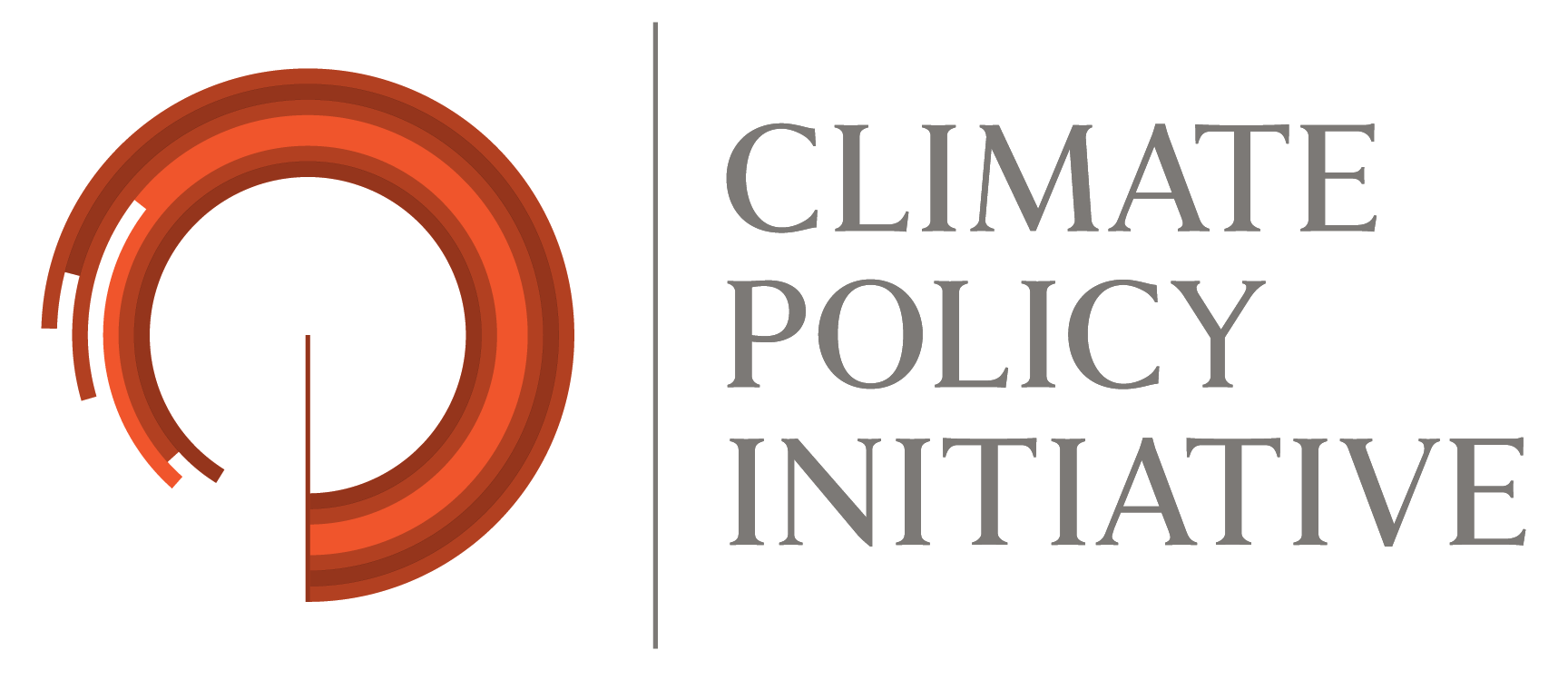Introdução
À medida que a crise climática se intensifica, cresce também a demanda por mecanismos eficazes de mitigação das emissões de gases de efeito estufa (GEE). Os mercados de carbono surgem nesse contexto como instrumentos promissores, permitindo que empresas e países financiem ações de redução e remoção de emissões, muitas vezes em territórios distantes de onde essas emissões ocorrem. No mercado voluntário, aquele em que empresas e organizações adquirem créditos sem exigência legal, mas em resposta a compromissos climáticos, uma parcela significativa dos créditos transacionados tem origem em Soluções Baseadas na Natureza (SbNs), com destaque para iniciativas de conservação florestal.
O Brasil ocupa posição de destaque nesse cenário, com vasto potencial para geração de créditos de carbono por meio da preservação de florestas tropicais. A maioria desses projetos utiliza o mecanismo conhecido como REDD[1] (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal), para incentivar a redução de GEE provenientes do desmatamento e da degradação florestal.
A integridade ambiental desses créditos depende de um critério-chave: a adicionalidade. Para que um crédito de carbono seja válido, é necessário comprovar que a redução de emissões só ocorreu por causa do projeto, ou seja, que a floresta teria sido desmatada se não houvesse a iniciativa de conservação. Avaliar essa adicionalidade exige a definição de um cenário contrafactual, conhecido como linha de base, que representa o que teria acontecido com aquela área caso o projeto não existisse.
Tradicionalmente, as metodologias utilizadas para estimar a linha de base se baseiam em análises estatísticas e espaciais que extrapolam tendências históricas de desmatamento. No entanto, estudos recentes têm apontado limitações importantes nesse tipo de abordagem. Críticas indicam que essas metodologias permitem certo grau de manipulação para maximizar a quantidade de créditos gerados. Isso compromete a credibilidade dos projetos e, por consequência, do mercado como um todo.
Neste trabalho, pesquisadores do Climate Policy Initiative/Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (CPI/PUC-Rio)[2] propõem uma nova metodologia para definir a linha de base e projetar o desmatamento em propriedades privadas na Amazônia, permitindo a construção de cenários para avaliação da adicionalidade em projetos de REDD no Brasil. A metodologia se baseia na literatura recente, que investiga a dinâmica de uso do solo a partir da perspectiva do produtor, considerando o uso mais rentável do solo de acordo com as condições econômicas e as características da propriedade.
Os resultados indicam que 77% do carbono negociado em projetos REDD na Amazônia brasileira é adicional, com variações significativas entre as diferentes regiões do bioma. De acordo com o conceito das “cinco Amazônias”[3] adotado na análise, as regiões não florestal, sob pressão e desmatada apresentam altas taxas de adicionalidade, enquanto a região florestal registra taxas significativamente mais baixas.
Por um lado, esses resultados reforçam que a preocupação com a adicionalidade é real: 23% das áreas de floresta que receberam recursos provenientes de projetos REDD permaneceriam preservadas mesmo sem os incentivos do projeto. Por outro lado, o fato de os preços pagos por créditos REDD serem relativamente baixos, quando comparados a outros mecanismos de precificação de carbono, reduz, em parte, o impacto financeiro de eventuais créditos não adicionais. Assim, as preocupações com adicionalidade não devem ser ignoradas, mas sim orientar o aprimoramento contínuo dos projetos, de modo que os mercados de carbono contribuam de forma efetiva para a mitigação das mudanças climáticas.
Este trabalho é financiado por Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI). Nossos parceiros e financiadores não necessariamente compartilham das posições expressas nesta publicação.
O autor gostaria de agradecer a Juliano Assunção, Leonardo Rezende, Rafael Araujo e Lucas Lima pelo suporte para pesquisa; Joana Chiavari, Natalie Hoover e Gustavo Pinto pelos comentários e sugestões; Giovanna de Miranda e Camila Calado pela revisão e edição do texto; e Meyrele Nascimento pela elaboração das figuras e formatação do texto.
[1] Nesta publicação, a definição de REDD está sendo restrita a às atividades relacionadas à geração de créditos de carbono no mercado voluntário de carbono a partir da conservação florestal. Dentro do contexto do regime internacional, o conceito de REDD é mais amplo, focado em desmatamento evitado. Para saber mais: UNFCCC. What is REDD+? sd. bit.ly/44KYUyL.
[2] Este trabalho é baseado na dissertação de mestrado do autor da publicação. Para saber mais: Arbache, João P. F. “Additionality in Carbon Projects: Evidence from the Brazilian Amazon”. Dissertação de Mestrado, PUC-Rio, 2024. bit.ly/4noiclH.